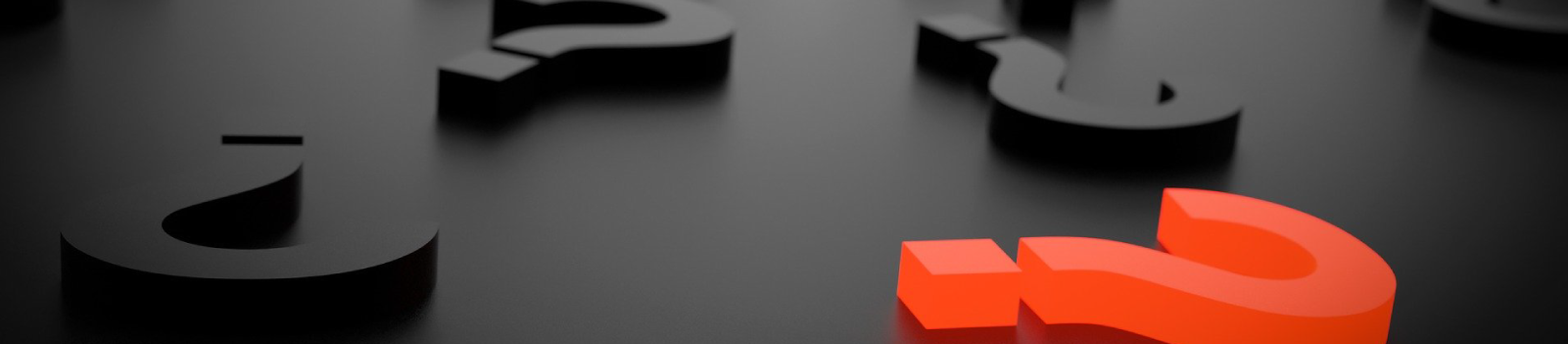Por Percival Puggina
Houve época, nas cidades medievais, em que as catedrais com suas torres e os campanários com seus relógios eram seus principais símbolos estéticos e dinâmicos. Na catedral batia o coração mesmo das comunidades, seu colossal orgulho; o relógio organizava o cotidiano e os sinos marcavam os tempos, seculares e religiosos, chamavam à oração e aos sacramentos, sonorizavam a alegria, o pesar e o perigo.
Escrevo este artigo no dia 30 de dezembro e não lembro de um ano novo tão pouco esperançoso. É de se perguntar: como tocarão os sinos à meia noite de amanhã? Soarão como sinos da esperança ou como repiques de alarme, num país desolado ante as visíveis comorbidades de suas instituições?
Viajante do século XIV, passando por uma cidade envolvida com a construção de sua catedral, deteve-se a visitar o atelier onde trabalhavam os escultores das imagens que integrariam a estética da obra. Em posição de destaque no canteiro dos artesãos, coberto de poeira, operava o mestre escultor, esmerando-se no acabamento de uma estátua. Curioso, perguntou sobre o local para onde estava designada aquela grande peça. A resposta o surpreendeu: “Este é apenas um dos doze apóstolos que serão colocados externamente no topo de cada arcobotante da nossa catedral”. O visitante saiu para a rua, tentou observar a extremidade superior daquelas estruturas, que estimou a 70 metros do chão, e voltou a interrogar o escultor: “Mestre, saí para ver se entendia, mas não consegui. Por que tanto zelo e detalhes num conjunto de peças que, de longe, ninguém conseguirá ver?” A resposta veio em duas palavras: “Deus verá.”
Como foi que perdemos essa dimensão da fé? Quem, e a troco de quê, a tomou de nós? Por que não vemos a nós mesmos – a nós mesmos! – como aquele escultor via sua estátua? Se nos víssemos assim, não passaríamos o recibo do silêncio ante o que está em curso em nosso país e não gratificaríamos o mal com a nossa omissão.
Eu lembro do réveillon do ano 2000 que tive a graça de viver aos 56 aninhos recém-feitos. Quanta esperança naquela ruidosa noite em que se misturavam os fogos de artifício, os sinos, as músicas da TV ligada, as palavras amorosas que trocávamos e as orações com que agradecíamos tantas e tão imerecidas graças. Sim, um novo milênio, inteiro, para o que desse e para quem viesse.
Se alguém lhe dissesse naquela noite, caro leitor, que no correr do quarto de século seguinte, o PT venceria cinco das seis eleições presidenciais que seriam disputadas, qual teria sido sua reação? Você teria imaginado a ruina institucional e moral a que chegamos? Teria previsto que nosso povo se habituaria, em modo cubano, à censura e à autocensura e que a isso acrescentaria os institutos dos sigilos por todo o século, dos segredos e dos respectivos vazamentos seletivos?
Quando iniciarem os sons do ano novo, lembre-se de que você é infinitamente mais amado por Deus do que a estátua tão zelosamente trabalhada pelo escultor medieval; lembre-se de que o ruído que ouvir é o dos alarmes, indicando os perigos que rondarão a política e as eleições de outubro. Faça, também nisso, o melhor de si.