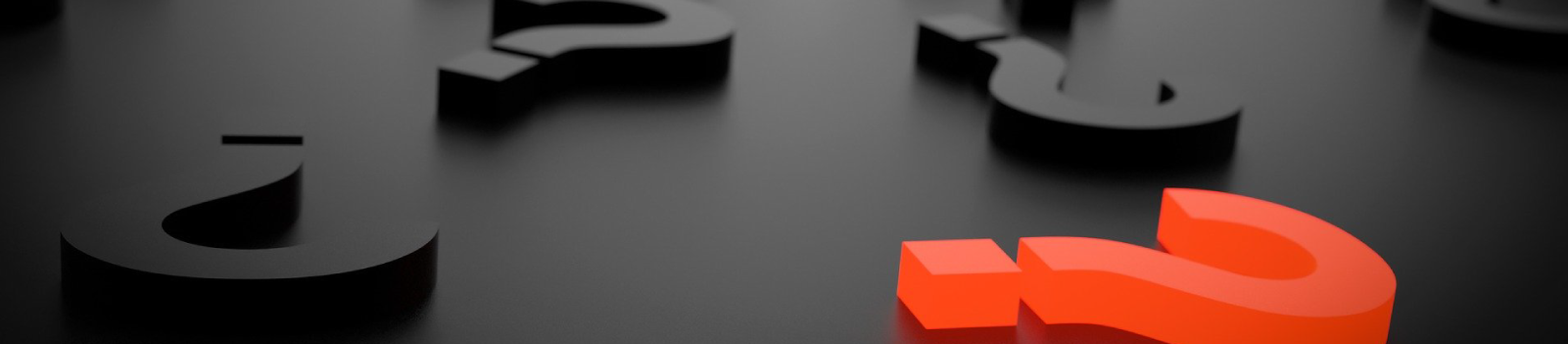Por Darcy Francisco
As indicações ao Supremo Tribunal Federal – STF sempre tiveram algum grau de pessoalidade, mas o Presidente Lula vem usando e abusando dessa prerrogativa, ao indicar amigos e companheiros políticos, sem observar um dos requisitos principais, que é o notável saber jurídico. Foi assim com Cristiano Zanin, seu advogado pessoal. Flávio Dino, embora membro do Ministério Público no passado, atualmente era político, tanto que o Presidente Lula comemorou a indicação de um comunista para o STF
Com esse mesmo vício, sem ao menos ter sido aprovado em concurso de juiz, foi a indicação de Dias Toffoli, que atualmente vem demonstrando ser especialista na soltura de corruptos, acabando com a Lava-Jato, que tanto moralizou o País.
E agora, está indicando outro amigo sem a característica de notável saber jurídico, o Sr. Jorge Messias. Como a aposentadoria compulsória ocorre aos 75 anos, tendo ele 45, ficará mais 30 anos na função.
Nada contra a pessoa do indicado, mas à não observância aos critérios estabelecidos pela Constituição. Se são exigidos certos requisitos para a função é porque houve estudos precedentes que indicaram essa necessidade. Além de tudo o que deve nortear as referidas escolhas são as características técnicas, que conduzam ao bem estar da sociedade e não à premiação ou retribuição por favores pessoais, até por que interesses pessoais e públicos não podem ser confundidos.
O ilustre jurista Celso Antônio Bandeira de Melo, referindo-se às indicações para os tribunais de contas, que não é diferente das nomeações para o Supremo Federal, assim se expressou:
“Somos afetivos, somos sentimentais, somos apaixonadamente partidários e atribuímos aos liames de lealdade, de amizade muito maior e importância que a rigidez das regras do Direito. Alguém que é nomeado por outrem guardará sempre _ e essa é uma característica, sobre certos aspectos, até muito simpática do povo brasileiro _ as limitações que decorrem da gratidão e induzem à tolerância”.
O presidente Lula tem, no máximo, mais um mandato, pelo avançado da idade, mas deixará o STF aparelhado, com cinco indicações de escolhas pessoais, que poderão ser um entrave aos futuros governantes. Além disso, a crise fiscal que atravessará o País no próximo governo e nos vindouros exigirá cada vez mais um STF que prime pelas decisões técnicas e não políticas.
Que o Senado, ao votar a atual indicação, observe esses requisitos.