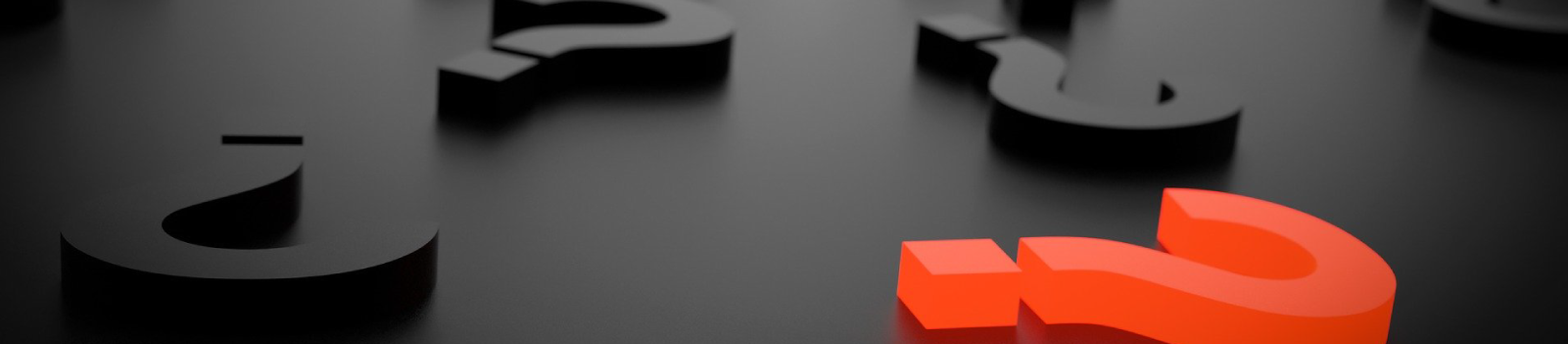Por Thomas Korontai, jornalista, empresário e coordenador nacional da Liga Federalista Nacional.
O Acordo Mercosul e União Europeia vem sendo apresentado como um marco histórico para o comércio exterior brasileiro. A narrativa oficial insiste em ganhos de acesso a mercados e aumento de exportações. Mas, quando se observam os números em proporção e os compromissos assumidos, a pergunta central passa a ser outra: vale a pena submeter o Brasil a um amplo conjunto de normas externas, de caráter permanente, a maioria inapropriadas, em troca de hipotéticos ganhos econômicos?
Em 2025, o Brasil exportou aproximadamente US$ 350 bilhões para o mundo. Desse total, cerca de US$ 50 bilhões tiveram como destino a União Europeia. Segundo estimativas divulgadas pela APEX, o acordo poderá gerar um incremento adicional de cerca de US$ 7 bilhões nas exportações brasileiras para o bloco europeu – algo próximo de 2% do total exportado pelo país. Sim, 2%...
É verdade que a ideia de fazer parte de um mercado de USD 22 trilhões soa tentadora, mas os números seccionados trazem uma visão realista: desse total, USD 18,5 trilhões são da UE, USD 2,17 trilhões do Brasil, e o resto dos demais países, incluindo a convidada Bolívia. Esses dados não negam a importância da União Europeia como parceiro comercial do Mercosul, é ótimo caminhar ao lado dos mais ricos, mas o problema é que essa assimetria favorável à UE vai nos forçar à aceitação de compromissos regulatórios profundos e irreversíveis, especialmente quando o ganho estimado é limitado.
Por outro lado, o Brasil já enfrenta um processo de desindustrialização há mais de duas décadas. Embora a ascensão da China como parque industrial do mundo tenha tido impacto relevante, o principal fator sempre foi interno: o péssimo ambiente para se fazer negócios no país, alta carga tributária, burocracia excessiva, insegurança jurídica, complexidade judicial, regras trabalhistas rígidas e incompatíveis com uma economia de mercado, custo elevado do capital, juros estruturalmente altos, deficiência logística, escassez de mão de obra qualificada e instabilidade política e institucional, tudo facultado por uma estrutura federativa esquizofrênica e cada vez mais centralizada, formam um conjunto de obstáculos que fragilizam a indústria nacional e toda a cadeia produtiva associada, incluindo comércio, agricultura e serviços. Inserir esse sistema produtivo fragilizado em um acordo que impõe padrões regulatórios elevados, concebidos para economias muito mais ricas e estáveis, tende a aprofundar assimetrias, não a reduzi-las.
Pelo lado europeu, agricultores estão em pé de guerra com Bruxelas. França, Holanda, Alemanha, Bélgica e Espanha testemunham há meses protestos massivos, com tratores nas ruas, contra políticas ambientais impostas pela União Europeia. Entre as principais queixas estão a taxação indireta por emissões de carbono (as lições do ginásio sobre o CO₂, como base da vida, foram soterradas pelas narrativas e regulamentos), inclusive na pecuária, restrições severas ao uso da terra, exigências ambientais crescentes e instáveis, risco de confisco ou reclassificação de propriedades, aumento de custos sem compensação econômica adequada, dentre outros problemas causados pelo centralismo europeu, avançando para a liberdade de expressão, algo impensável para um povo que há 80 anos livrou-se das ameaças nazistas e fascistas e, há 45 anos, derrubou o Muro de Berlim.
Parece uma síndrome totalitária cíclica. Nesse sentido, um tratado como o do Mercosul com a UE que impõe regras a todos os parceiros signatários traz um perigoso paradoxo ao nosso povo e ao nosso país, pois as consequências que citei são reais. E pior, desejáveis pelos burocratas e tecnocratas de Bruxelas. A pergunta é inevitável: o que exatamente a Europa tem a nos oferecer, além da exportação de um modelo regulatório que enfrenta rejeição interna? Estaríamos sendo usados como proxy da mentalidade que controla o Velho Mundo, que abriu as fronteiras para as invasões que seguem destruindo a cultura de vários países, que já estão se tornando irreconhecíveis? Mesmo sendo nós, brasileiros, um dos povos mais receptivos do mundo, queremos ser invadidos assim também? E o Paraguai, com políticas internas que o impulsionaram como economia emergente com altas taxas de crescimento, como aceitou isso? E os demais?
O problema europeu são as agendas estranhas à liberdade. Uma delas é a ESG – Environmental Social Governance –, que vem funcionando como um experimento regulatório transnacional. É mais uma das regras que farão parte do ordenamento jurídico brasileiro, por força do tratado, sem que tenha havido qualquer votação no Congresso. Por meio de selos, certificações e exigências de conformidade, cria-se um “sistema de incentivos” que, no longo prazo, tende a excluir do comércio empresas que não se submetam a padrões definidos fora de seus países de origem. Já pensou sua empresa ser absolutamente controlada, mais do que já é, por governos de fora também? E, se não tiver a porcaria de um selo, você está fora, seu cliente estará proibido de comprar de você?
·
Friso aqui que não se trata de negar a importância ambiental, mas de reconhecer o risco de coerção indireta. Barreiras comerciais disfarçadas de virtude ambiental comprometem a autonomia empresarial, encarecem a produção e reduzem a liberdade de escolha de produtores e consumidores.
No conceito do ESG, dentre outros regulamentos, cito alguns dos impactos regulatórios potenciais: indústria – barreiras técnicas, custos de compliance, exclusão de pequenas empresas; agricultura – regras ambientais rígidas, rastreabilidade onerosa; pecuária – taxação indireta por emissões; Estados e municípios – execução local de normas externas; pequenos produtores – dificuldade de adaptação e acesso a mercados.
Há um problema muito sério sobre os tratados internacionais: eles são negociados por governos centrais e ratificados pelo Congresso, sem que haja uma discussão ampla com os setores da vida nacional. A tendência é de ratificação por falta de coragem para debater assunto internacional de envergadura, adiar e negar ratificação, e espero muito francamente que este singelo artigo possa chamar a atenção sobre esta ameaça real ao nosso povo.
Seus efeitos recairão diretamente sobre estados, municípios e produtores locais. Ou seja, ignoram completamente a federação, passando por cima do art. 18 e também do art. 60 da Constituição Federal, bem como o art. 1º, que trata da soberania nacional. Por força do tratado, caso seja ratificado, a adoção de normas estrangeiras passa a ser automática, comprometendo a soberania regulatória brasileira e deslocando o centro de decisões para fora do país.
Temos, portanto, obrigação de questionar e impedir esse Acordo do Mercosul com a União Europeia, longe de rejeitar o comércio internacional, ou propor o isolamento, ou comportamento xenófobo. É compreender que, em uma mesa de negociações entre duas nações, com interesses mútuos como objeto de trocas comerciais, é muito mais seguro do que sentar-se à mesa com vários países, sendo uma das cadeiras ocupada por uma potência vinte vezes maior do que todos os países componentes do Mercosul.
O desequilíbrio do acordo do Mercosul com a UE é patente. E o Brasil é uma economia diversificada, com um mercado interno que pode significar oportunidades, e uma grande cesta de negócios para relações bilaterais com mais de duzentos outros países. Negociações bilaterais e acordos pontuais, baseados em vantagens comparativas reais, sempre se mostraram mais flexíveis e eficientes. É assim que grandes potências negociam. Com a Europa, é melhor negociar com cada um dos países europeus, e não com a União de todos eles.
Nesse sentido, ingressamos com uma proposta legislativa junto à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal para que o Congresso Nacional, que tem o poder constitucional de ratificação, rejeite o acordo do Mercosul com a UE, pelos grandes riscos que não justificam as pequenas vantagens, vantagens estas que vão beneficiar mais especificamente um seleto grupo de grandes players do agronegócio. Está na hora de o Brasil se preocupar com sua soberania de verdade, não a ideológica no campo geopolítico, mas a geoeconômica, que é a base que garante de fato a autonomia das nações. Trata-se de uma lição antiga, de Thomas Jefferson, que recomendava o comércio bilateral como forma de autopreservação.